Os Ingleses
Um conto | 7
Já se vê o fim do caminho. Estorninhos, alarmados pelos travões estridentes e resfolegar esbaforido do intercidades abrandando, refugiam-se em arbustos desfolhados. O sol, daqueles que ilumina mas não aquece, bate de esguelha na estação. A brancura da cal, assim acentuada, ressai do azul cristalino do céu quase limpo, pontuado apenas por fiapos de nuvens que teimam não dissipar. A estação é rematada por painéis de azulejos, indistintos à distância, mas familiares mesmo passado tanto tempo. Sabemos que retratam, oníricos, varinas e campinos, carros de bois e navios armados, portos e searas.
Começamos, vagarosamente, a despertar músculos moídos pela viagem, a tirar rangeres dos ossos, a respigar os nossos haveres. Reconhecemos um grupo de figuras no apeadeiro, silhuetas em contraluz, tolhidas pelos anos, mais mirradas do que da última vez.
Pela janela empoeirada da porta, vemos que afinal não estão ensombrados por um brincar da luz. Estão de preto. Antes de a porta abrir, trocamos um olhar e, sem serem necessárias palavras, sabemos que vamos ter de ir diretos.
Saímos com um salto, sem prestar o respeito devido à gap, cuja importância tanto nos foi incutida. Deixamos as malas tombar no xadrez da calçada e, de braços abertos, vamos a correr até aos nossos. Ouvimos, num uníssono doído, Olha os ingleses!
Aqui, os comboios têm nomes. Nomes próprios, nada como Intercidades ou Alfa Pendular. Este, que vai levar-nos ao aeroporto, foi batizado de Abelha, em honra de uma velhinha que se postava à porta da estação e pedia para a caridade vestida adivinhem lá de quê. O Abelha é roxo, curvilíneo, com ares – mas só ares – de moderno. Cruzam-no, de ponta a ponta, imagens a preto-e-branco de ex-líbris da região: abadias abandonadas, um Aquário bicudo, catedrais.
Chegamos pouco antes da hora. Na plataforma está uma cacofonia de gente. Ziguezagueamos por entre a babel, à procura da nossa carruagem. A mistura da neve e do sal que a vai derretendo dá uma sensação agradável de gravilha quando a pisamos.
Passamos por pessoas com a farda de uma empresa local de pré-fabricados. Nota-se em todos um vago ar de resignação. Como nós, vieram precavidos com copos descartáveis – café, ou chá, ou outra cura para a neura. Vemos mulheres alegres, com vestidos em vários tons de rosa e pequenos chapéus rendilhados, que só graças a muita perícia, sorte ou cola não lhes voam da cabeça. Gente a comer pastéis diretamente da embalagem de papel. Um grupo de homens pançudos, que trazem cachecóis do clube da cidade e que ocasionalmente eclodem em cânticos bem ensaiados e bem carroceiros. Uma rapariga de gorro e auriculares, com as mãos nos bolsos e um livro entalado na axila, como nós levamos. Um homem que leva ao colo uma menina vestida de princesa. Até tem uma tiara e uma varinha de condão que desponta numa estrela. Uma miúda com uma mala de rodinhas, como as nossas, acompanhada por uma senhora já entradota, com as mãos enfiadas em abafadores, sem bagagem.
Por entre a algaraviada, entreouvimos bichanares sobre carreiras canceladas, problemas num troço mais adiante, gracejos e especulação sobre o motivo.
Um dos funcionários da companhia ferroviária, denunciado pelo distintivo blusão azul e apito ao pescoço, começa a percorrer a plataforma de uma ponta à outra. Toca o apito sempre que chega ao carro seguinte e choca cinco a cada colega que passa, como se estivessem a jogar ao toca-e-foge. Se estiverem, não há dúvida de quem está a ganhar. Chega à cabeça do comboio e faz sinal ao maquinista. As luzes começam a acender. As portas abrem.
A multidão resmunga uns finalmentes e até-que-enfins, temperados com impropérios a gosto. O maralhal começa a fluir para o interior das carruagens e somos levados pela corrente. Apetece nadar contra esta maré e ficar de fora a observar quem entra, de os estudar, de lhes emular os modos, os costumes, os falares. De dar um piparote no vidro e deitar-lhes a língua de fora, como se fôssemos nós miúdos num zoo e eles estivessem cativos, em vez de sermos companheiros de viagem e de viveiro.
Sugados pelo redemoinho de cotovelos, entramos a contragosto numa carruagem que não é a nossa. Deixamos de ver o vapor das nossas exalações dissipar-se, e o frio que nos transia é trocado por um calor abafado de humanidade e óculos embaciados. A vozearia é desnorteante. O corredor está empachado de gente e não há nenhum assento desocupado. Com as mãos cheias e as malas sobre os pés, dando pequenos passos de pinguim, começamos a abrir caminho pela algazarra de ilhéus, pedindo perdão, ou agradecendo quando se ajeitam para nos dar espaço. Passa entre nós um macaron voador, que uma mulher lança à sua colega. Passamos por lugares com mesas a meio, onde já se preparam merendas improvisadas. Pacotes de batatas fritas, rasgados para facilitar a partilha; latas de bebidas energéticas com cores garridas; embalagens amassadas de dónutes de geleia; sandes secas e frias em invólucros de plástico; garrafas de Baileys em miniatura. Não é difícil imaginar que, fossem outros o tempo e o lugar, estaríamos a ver garrafões de tinto e pães com chouriço. Discordando talvez da escolha dos petiscos e estranhando o modo de os regar, a verdade é que invejamos estes domingueiros.
Atravessamos o acordeão de borracha poeirenta que liga as carruagens e chegamos à nossa. O espojinho não serena. Começamos a procurar os nossos lugares: numa mão vai o telemóvel equilibrado em cima do café, noutra a mala, e o olhar alternando entre os números dos lugares e os ecrãs, onde temos os bilhetes. Não demora muito até darmos com o nosso número. Olhamos para o telemóvel, para confirmar que vimos bem. Vimos. Outra vez para o número, para confirmar que é o tal. É. E depois para o casal mais madrugador, sentado nos nossos lugares. Não faz mal. Acontece. Todos erramos e estes erraram até aos nossos lugares. Um lapso que se resolve facilmente. Pegamos nos telemóveis e mostramos os bilhetes aos saltimbancos. Explicamos, com paciência e sorrisos e pedidos de desculpa, que aqueles lugares já têm donos. No rosto dos saltimbancos, lemos uma mistura de afronta e atabalhoamento. Ripostam, esgrimindo os próprios telemóveis. Olhamos para os ecrãs deles, para os nossos, trocamos olhares perplexos, tartamudeamos uns hums e ahs.
Ninguém se enganou. Temos os mesmos lugares. O saltimbanco começa a levantar-se, mas fica a meio caminho, a pairar sobre o estofo numa pose de alguém que faz ski sem bastões. Insta a companheira a fazer o mesmo. É a forma que têm de demonstrar cortesia, mas não tanta que lhes vá custar o lugar. Também não são parvos. Acenamos que não, que se deixem estar. Ninguém ajuda a quem não madruga, e somos, portanto, vencidos pelos postulados do provérbio e pelas manigâncias da companhia ferroviária.
Ouve-se um apito e as portas fecham. O Abelha arranca, pastelão com o sobrepeso.
Começamos a fazer inversão de marcha até à comissura das carruagens, fintando os cotovelos de quem vai de pé e os ombros de quem vai sentado. Entalamo-nos entre uns poucos de nativos: umas raparigas novas, uns velhotes que falam de cavalos de corrida, e um grupo de meia-idades aperaltados.
Acomodamos os nossos haveres, encostamo-nos para estorvar o menos e, de braços colados ao corpo, abrimos os livros. Servem um duplo propósito: salvaguardam-nos contra o aborrecimento, claro, mas também doseiam interações indesejadas. Com um livro na mão, até os menos perspicazes percebem a dica quando se dá um meio-sorriso e se baixa os olhos para as páginas. Também podem servir para ouvir conversas alheias, mas o difícil nesta situação seria não o fazer. Os livros não são tão eficazes como auscultadores, que cortam logo o mal pela raiz, mas dão um ar mais sisudo, mais digno, mais culto.
Os meia-idades beberricam prosecco e, postados em frente às casas de banho, falam de férias em lugares exóticos. Não destoariam num bar de jazz.
As raparigas entaramelam-se numa discussão acesa sobre nomes de bebé. Aplicam uma lógica singela: não se podem repetir nomes dos rebentos das colegas, nem mesmo dos de amigas de amigas. Subentende-se que fazê-lo seria de uma enorme deselegância. Servimo-nos do nosso código secreto – o português – para falar sobre como nos lembra quando, na escola, havia aquelas discussões de recreio sobre os nossos preferidos – animais, desenhos animados, guloseimas, o que fosse. Não havia pior do que quando alguém dizia o que nós planeávamos dizer, não só por nos roubarem a ideia, mas porque nos víamos condenados a fazer figura de banais copiões se não mudássemos a nossa resposta para uma menos verdadeira.
A reminiscência desse passado mais simples, onde o tempo parecia um recurso renovável, anima-nos um pouco.
O primeiro erro que fazemos na viagem é ajudar a reaver uma flute caída ao chão, aparentemente partida em dois. Quando devolvemos o pé e a taça à nativa trapalhona, ela atarraxa as duas partes como se nada fosse. Agradece-nos e arregaça os lábios, cintilantes, rosáceos e inchados, revelando dentes branquíssimos, que contrastam com o castanho cambiante da pele, fruto da aplicação liberal de bronzeador. Vê que temos bagagem e pergunta se vamos aproveitar para gozar o Natal longe da família. Reparando na nossa pele trigueira, acrescenta, Se é que celebram o Natal.
Um pequeno compasso de silêncio, preenchido pelo zumbido sincopado do Abelha sobre a ferrovia.
Fazemos-lhe uma pequena sacanice e perguntamos porque é que acha que não celebramos o Natal. Apesar de a pergunta ser perfeitamente cortês, demonstrar até uma certa sensibilidade, dá também um pequeno gozo vê-la aflita, em busca de uma resposta. Poupamo-la e explicamos que não, precisamente o oposto, que vamos para passar o Natal com a família, o que, não sendo a história completa, não deixa de ser verdade. Ela desculpa-se pela indelicadeza de não se ter apresentado, diz o seu nome e agita a garrafa de prosecco na nossa direção. Mais do que um convite a dar um gole, parece ser uma bandeira branca pelo passo em falso. Recusamos – é demasiado cedo para nós –, mas partilhamos os nossos nomes. Antevendo a pergunta habitual, adiantamos também que somos portugueses. Espirituosa, ou talvez vingando-se, a nativa repete a apresentação e acrescenta que não é portuguesa. Para nos sentirmos menos estúpidos, explicamos que é a pergunta que invariavelmente se segue aos nossos nomes de forasteiros. Estávamos só a atalhar. A nativa acena e começamos a baixar os olhos para os livros.
O subterfúgio não funciona tão bem como planeado. A nativa vira-se para um casal de cãs grisalhas, aprumado, e diz-lhes que somos portugueses. Começam de imediato a desbobinar sobre o quanto gostam do nosso sol, do nosso mar, da comida, do remanso. O esposo, roufenho, entra numa tirada de associação mental, fala sobre a aliança mais longa do mundo, sobre as zurzidelas que juntos demos aos franceses, sobre os belos campos de golfe. A esposa pede a garrafa à amiga e, entre pequenos goles, começa a contar uma história sobre uma vez que foram a Ahrmassau di Pehra em 1997. Tem de gritar para se fazer ouvir. A nossa periclitante interlocutora ameaça batizar-nos com prosecco e não só devido aos gingares da carruagem. Entre a pronúncia arrastada e o ruído generalizado, temos de pedir-lhe que se repita várias vezes até entendermos que fala de Armação de Pera. Desensarilhado o quiproquó, pedimos desculpa pela nossa ignorância e confessamos não conhecer bem o Algarve, que não somos lá de baixo e que os nossos destinos de férias eram outros. Omitimos que esses destinos eram casa, o café e arredores. Os nativos, parecendo entender a elipse, ou que não estamos faladores, ou que não somos dos deles, deixam-se distrair por quatro catraios desengonçados que passam com destino às casas de banho. Estão vestidos para os rigores do frio com uma fina licra verde-choque. Levam às costas carapaças de pelúcia e espadas de brincar. Três ficam a guardar a porta, adotando uma atitude brincalhona de sisudez fingida, e recorrem mesmo à força das armas de espuma para enxotar um rapaz que lança a mão à maçaneta. Desarvoram dali para fora pouco depois. Os meia-idades riem-se, entretidos pelo quadro rocambolesco e, quando voltam a virar-se para nós, já só encontram capas de livro com palavras indecifráveis. Deixam as coisas por aí.
Protegidos pelos nossos biombos, deixamos o olhar perder-se pelas colinas rendilhadas de neve que ondulam sob o impassível céu de chumbo, ponteadas pelo negro de corvos e milhafres, e onde já se não vê a urze.
A carruagem pára com um safanão. Depois das quase-quedas e clamores de surpresa, há risos aliviados e pedidos de desculpa pelos encontrões e pelas invasões de espaço pessoal. Um homem, de braços abertos, pede lenços para secar o espumante que lhe encharcou a camisa.
Chegámos à primeira cidade com algum interesse e importe. É um destino popular para os domingueiros, e a enchente começa a escoar do comboio. Acenamos adeus aos nossos colegas de cavaco. Arrepanhamos as malas e regressamos ao corredor, agora mais fácil de navegar.
Os nossos xarás de número, mais lestos, continuam onde os deixámos. O moço está encostado à janela a dormir o sono dos justos. Parece nem ter dado pela paragem brusca; escorre-lhe um fio de baba pelo canto da boca entreaberta. Perguntamos à rapariga se estavam para sair. Não, também iam até ao aeroporto. Azar o nosso.
Bispamos um lugar com mesa ao centro e cortamos a conversa a meio. Vamos praticamente a correr. Sentamo-nos, aliviados nestes lugares que não são os nossos, a tensão a dissipar-se-nos das pernas, dos pés, do lombo. Agora também é pouco provável que algum bicho-careta nos venha chatear.
Arrumamos as malas debaixo dos pés. Nunca as deixamos sair de vista. Os ilhéus não parecem importar-se em deixar malas nos compartimentos próprios, que ficam à saída das carruagens, mesmo à mão para uma fuga rápida. Têm, talvez, mais confiança nas regras e na vontade que os outros têm de as seguir, no contrato social com os restantes ilhéus. Perguntamo-nos se haverá alguma regra não escrita nesse contrato, alguma punição, alguma salvaguarda. Algo como, se me roubas a mala hoje, amanhã roubo a mala do próximo e assim por diante até alguém, um dia, te roubar a mala a ti. Uma espécie de dissuasão por furto mutuamente assegurado. Talvez sejam só mais cosmopolitas, mais iluminados, menos apegados às posses terrenas. Talvez sejamos nós só provincianos desconfiados, neuróticos, sempre com medo que venha alguém roubar-nos as ceroulas.
Outro casal junta-se a nós na mesa. Abrimos-lhes espaço com sorrisos sem dentes e regressamos à égide dos livros. Este foi o nosso segundo erro, porque estes são daquelas aves raras que acumulam duas qualidades quase paradoxais: querem saber de livros e não têm pudor de meter conversa com estranhos no comboio. A mulher, que tem um sotaque estrangeiro mas mavioso, pergunta o que estamos a ler. Respondemos que são autores portugueses. Ela pergunta se conhecemos o Pessoa e o Desassossego, que lhe mudou a vida. Perguntamos se foi para o melhor ou para o pior. Eles riem-se. Continuamos com a conversa de circunstância habitual entre desterrados: há quantos anos vieram para a ilha brumosa, porquê, como ganham a vida por cá. Ficamos a saber que ela é italiana e ele alemão. Piadas sobre eixos do mal ficam engavetadas para mais tarde, mas sabemos, pela forma como eles se entreolham, que as preconizam assim que o alemão anuncia a sua nacionalidade – já devem estar mais que fartos de ouvir a mesma. Oferecem-nos uns biscoitos, por sinal muito bons, e uma espécie de torta de maçã bávara num guardanapo. Não temos tinto nem pão com chouriço para partilhar com eles, mas temos queijo e marmelada. Explicamos que a isto se chama Romeu e Julieta, por ser a combinação perfeita. O alemão comenta que não percebe – não há de ser uma combinação tão boa assim, porque no fim morrem os dois. Touché. Risos de parte a parte.
Do outro lado do corredor, senta-se um odre em forma de homem. Tem a barba grisalha, o cabelo ralo e é tão grande que apequena o banco em que se senta. A lata de Corona que tem no tabuleiro parece uma miniatura quando lhe pega para beber. Começa a enrolar um cigarro e, fazendo que olha para o chão, demora a língua pastosa na mortalha enquanto gala as pernas traçadas da italiana. Com o cigarro mal amanhado e por acender a pender-lhe da boca, decide juntar-se à amena cavaqueira que se instalou na nossa mesa, talvez interessado em comida para lastrar o estômago.
Faz um reparo sobre os nossos sotaques variegados, claramente estrangeiros, e pergunta de onde somos. Engrola qualquer coisa sobre a beleza de podermos travar amizade graças à língua dele.
Pensamos no bonito que é quando podemos falar português entre nós e não termos de nos sujeitar a abelhudos.
O ilhéu começa a explicar que tem muito apreço pelo velho continente. Desenvolve sem ninguém lho pedir. É cantor e faz turnés por essa Europa fora. Alguém pergunta como se chama. Responde que o seu nome artístico é Mark Santana. Na mesa dos forasteiros, trocamos olhares de vago desconhecimento. Alguém arrisca-se a perguntar se tem alguma música que talvez conheçamos. O Sr. Santana mostra-nos um vídeo de uma atuação num cruzeiro algures no Mediterrâneo. Tem 97 visualizações e tanto o som como a imagem são ininteligíveis. Continua, explicando que atua mormente em cruzeiros e casinos, que é muito requisitado e que está sempre em viagem.
Na mesa dos forasteiros, entreolhamo-nos para tentar decidir, sem falar, a quem calha a fava de responder. Acabamos por perguntar se não está a ser problemático para o Sr. Santana calcorrear a Europa depois de os ilhéus desataram o nó da união. Santana, subitamente ensimesmado, deixa o olhar desfocado assentar no estofo à sua frente, as mãos entrelaçadas sobre a lata de cerveza. Responde que as coisas estavam mais difíceis, mas que, Quando a necessidade apertou, sem o fardo dos outros, pudemos tratar dos nossos.
Os nossos.
Os forasteiros emudecem.
Ninguém parece ter vontade de lhe explicar que, estando aqui, votados a relações superficiais e ao limbo da alteridade – tanto cá como no sítio de onde somos –, tratamos também dos dele. De lhe explicar sobre a distância, que mais pequena agora do que nunca, nunca desaparecerá. De lhe explicar que, estando aqui a tratar de nós e dos dele, estamos apartados dos nossos. De lhe explicar sobre os modos que se vão mudando, sobre os costumes que se vão esquecendo, sobre o inglês que se vai entranhando no falar e no pensar. De lhe explicar a culpa que sentimos por estarmos ausentes.
Sabemos que, no fundo, dificilmente conseguiríamos destrinçar algo tão profundamente enraizado. Não tentar é talvez o nosso terceiro e último erro.
A conversa amaina. Os livros solevam-se. Pela janela, vê-se à distância o torreão de uma igreja rodeada de carvalhos ingleses, sisudos, dignos, imorredouros, os ramos vergados pela neve. Vê-se, não se ouvindo, o dobrar de um sino. Já não falta muito para chegar ao aeroporto. Daí até casa, até aos nossos, é um pequeno salto imprudente sobre uma gap.


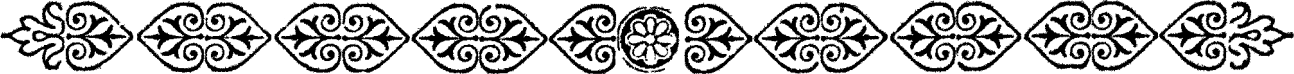

Gostei muito 😊 tantos pormenores bonitos. Por mera coincidência, acabei de ler este conto após uma viagem de comboio intercidades, do Porto para Coimbra, em que tive de acordar demasiado cedo para dizer a hora. De alguma forma, ler o teu conto pareceu-se com um espreguiçar após a viagem que soube mesmo muito bem ✨obrigada ✨